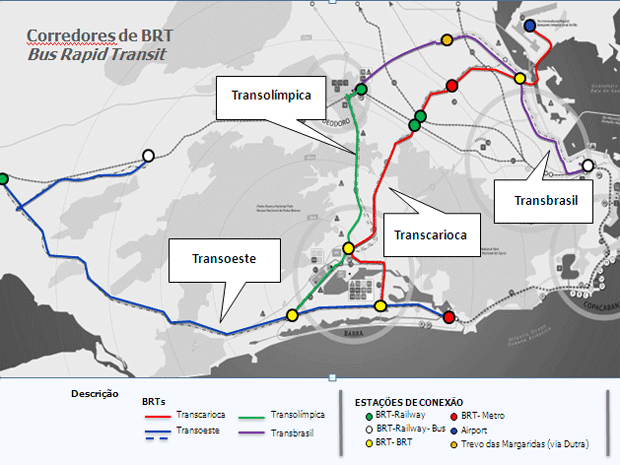Recentemente conversei com a Revista Página 22, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas, sobre os impactos sociais dos megaeventos esportivos. A entrevista foi publicada esta semana e está disponível no site da revista. Abaixo compartilho com vocês a conversa:
Raquel Rolnik
O espetáculo e o mito
Na história dos megaeventos esportivos, o propalado legado urbanístico e socioeconômico configura a exceção, não a regra. Muito mais frequentes são os casos em que as populações desassistidas se transformam em vítimas de um processo atropelado de remoção e as contas das cidades mergulham no vermelho.
A urbanista Raquel Rolnik, professora da FAU-USP e relatora especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o direito à moradia adequada, teve a oportunidade de conhecer in loco os impactos das Olimpíadas e das Copas do Mundo em diversos países. Em março de 2010, apresentou à ONU um relatório com denúncias de violações de direitos humanos e, a partir de então, transformou-se em uma espécie de porta-voz das comunidades atingidas por essas obras no Brasil.
“Os funcionários das prefeituras chegam e pintam as casas com um número, assim como os nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial. Você sabe que a sua casa é um alvo, mas não sabe nem quando nem o quê vai acontecer com você”, denuncia a professora. Nesta entrevista, ela explica a origem do mito da bonança associada aos megaeventos e revela os fatores decisivos dos poucos casos em que o legado é inequívoco: transparência e participação.
Há evidências empíricas de que sediar grandes eventos esportivos traz desenvolvimento econômico e social?
Traz ganhos. A discussão é: ganhos para quê? E ganhos para quem? Porque, sim, mobiliza uma enorme quantidade de dinheiro e de investimentos. Não há a menor dúvida de que esses grandes eventos transformaram-se, sobretudo a partir do final dos anos 1980, numa espécie de constituição de branding: uma marca que é vendida associada à marca de uma cidade e de um país. Portanto, todas aquelas empresas que se associam a essa marca também são automaticamente promovidas no mercado internacional. E é uma estratégia bem-sucedida, porque o evento é visto por bilhões de pessoas, uma oportunidade única para se comunicar com essa audiência ou com esse público consumidor. É disso que se trata: de corporações e grandes negócios, um grande evento de marketing e de marcas associadas a ele.
Claro que, dependendo da cidade, do contexto e do país, eventualmente esses momentos são utilizados também para realizar projetos que beneficiam não só as pessoas que vão usufruir do evento naquele momento, mas também outras pessoas a longo prazo. Basicamente, Barcelona ficou notabilizada por utilizar os Jogos Olímpicos para implementar um projeto de renovação urbanística e se recolocar no cenário internacional de cidades em um momento em que a gente vivia um processo muito radical de reestruturação produtiva com a globalização. Barcelona era uma cidade industrial e portuária e estava perdendo completamente o seu lugar, porque esse lugar da indústria não estava mais se sustentando economicamente. Ao mesmo tempo, a gente também vive nesse momento a grande era dos reajustes estruturais, da retirada do governo central e dos grandes investimentos públicos. As cidades começam a entrar num jogo de autopromoção no cenário internacional para atrair investimentos externos e promover uma reengenharia da sua base econômica.
Quando se discute o legado desses eventos, sempre se menciona Barcelona-92. Há algo que se compare na história dos Jogos Olímpicos e das Copas do Mundo?
Barcelona estabeleceu uma espécie de paradigma de que os Jogos sempre se associam a um legado de transformação urbanística. Mas os projetos de intervenção urbanística não são neutros. Tem beneficiários e tem prejudicados. É importante distinguir as duas coisas.
Quando se conta a história de Barcelona, separa-se a experiência específica dos Jogos Olímpicos da história imediatamente anterior. Para entender Barcelona, é preciso entender que mais de uma década antes (dos Jogos) a cidade ganhou um governo autônomo socialista, num movimento que era importantíssimo para a Catalunha, de afastamento do controle autoritário e centralizado do franquismo. Trata-se de uma luta democrática e popular que durante pelo menos uma década fez um investimento radical na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e de suas periferias, investiu na melhoria das condições urbanísticas desses bairros populares, investiu na moradia, aumentou tremendamente o grau de participação popular na gestão da cidade. Então, quando Barcelona desenha o seu projeto olímpico, isso não veio do nada. Não se abriu o céu e caíram as Olimpíadas, como está acontecendo no Brasil. Mesmo assim, houve resistência, houve questionamento, houve luta, houve transformação da pauta de intervenção como consequência dessas lutas e desses questionamentos. Só que ninguém conta essa parte da história. Essa parte da história sumiu.
Então o grande paradigma de legado associado às Olimpíadas só aconteceu porque já existia uma trajetória independente do evento?
Evidentemente. Você pode ver o caso de Londres agora (sede das Olimpíadas de 2012). O projeto de Londres também tem uma história muito mais longa de integração, de intervenção no East End, historicamente a região com condições urbanísticas mais precárias. Além da construção de um grande parque público, a maioria dos equipamentos olímpicos será desmontada e, no seu lugar, vai ter habitação, comércio e serviços, com uma cota de 35% para habitação social subsidiada. E também no caso de Londres houve questionamento, também teve debate público e também o projeto foi transformado em razão disso.
Eu diria que onde já existe um processo público de debate e de intervenção territorial sobre a cidade, as Olimpíadas aparecem como uma oportunidade a mais dentro de um caminho para implantar esse plano. Onde não tem nada, cai do céu um projeto que não tem absolutamente nada a ver. O caso do Brasil é emblemático. As cidades brasileiras passaram, depois da aprovação do Estatuto das Cidades, no ano 2000, a elaborar projeto de plano diretor, de planejamento participativo, pensando no futuro dessas cidades. Esses planos e projetos estão todos na gaveta ou foram rasgados.
O grande projeto olímpico do Rio de Janeiro foi elaborado conjuntamente e quase que diretamente por incorporadores privados que vão lançar um enorme investimento imobiliário na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, região na qual a intervenção urbanística pelo setor privado já estava acontecendo. Não mudou nada. Ao contrário, reforça a centralidade da Zona Oeste, uma centralidade de classe média, para poucos. É a extensão da Zona Sul. Não é o Rio de Janeiro que mais precisa de uma intervenção urbanística, como os bairros centrais. Tem tudo a ver com processos de valorização privada e muito pouco com o interesse público e uma revisão de tendências, de modo que os elementos perversos que existem no nosso urbanismo precário pudessem ser revertidos.
O legado inequívoco é a exceção dentro do histórico de grandes eventos esportivos?
Exatamente. Tem que entender isso no âmbito do que aconteceu no mercado de terras e no mercado imobiliário, com a globalização. O mercado imobiliário internacional passou a ser uma parte fundamental do circuito financeiro. A gente viveu uma “financeirização” do processo de produção de moradia e de cidades. Isso significa – e isso a gente viu com a crise americana – que os ativos imobiliários, mais do que representarem um valor de uso para as cidades, são um ativo financeiro passivo de especulação. Veja o que é Dubai. São operações de abertura de frentes para atração desses capitais financeiros. O megaevento nada mais é que um estande de vendas, fantástico e imediato, ainda por cima associado ao espírito do esporte, da solidariedade entre os povos, do nacionalismo segundo o qual o país vai mostrar ao mundo do que é capaz. Associado a todos esses elementos, é muito mais poderoso.
De onde vem esse mito da bonança socioeconômica associada à Copa do Mundo ou às Olimpíadas?
Se a gente olhar para a história dos grandes Jogos, eles tiveram lá as suas fases. Eles começam a ter muita importância, do ponto de vista cultural e geopolítico, no pós-guerra, quando se tratava de um espaço de conciliação entre as nações. Logo em seguida, no período da Guerra Fria, era muito importante para ver quem ia ganhar. Se eram os Estados Unidos, portanto a visão do livre mercado capitalista, ou se era o bloco soviético, e, posteriormente, a China. Era um encontro de forças, um cenário de reafirmação da Guerra Fria.
As Olimpíadas começam a ser associadas a uma intervenção na cidade nos Jogos de Los Angeles, em 1984, quando se mobiliza pela primeira vez o capital corporativo para fazer investimentos na cidade de forma mais permanente. E, desde então, toma conta. É um espaço basicamente das corporações, mediado pelos comitês olímpicos e comitês organizadores da Copa do Mundo, portanto também dos governos.
E aí, crescentemente, surgem as operações com base no tal do legado e na transformação urbanística. Mas isso, como falei, coincide com dois fenômenos: a diminuição do papel dos Estados para atendimento de demandas urbanísticas e, consequentememte, a entrada do capital privado na gestão; e as cidades competindo na arena internacional globalizada para ver quem capta investimentos de um excedente financeiro que fica pairando sobre o planeta procurando onde se alocar. Os Jogos Olímpicos e as Copas do Mundo abrem um espaço para que esse investimento aconteça, especialmente pelo que carregam também de elementos simbólicos, com a vantagem de ser um ambiente de consenso. Todo mundo gosta, todo mundo acha legal.
É por isso que existe essa expectativa de um legado transformador, quando, na verdade, o saldo convincente para os interesses difusos é raríssimo?
É um espetáculo que mobiliza corações. A mobilização é real. Você não só assiste. Você torce, você sofre, você chora. O evento trabalha com esses sentimentos e por isso é tão consensual. Tudo que se associa ao evento é contaminado por esse mesmo espírito.
Por outro lado, quando você tem uma intervenção física, as pessoas enxergam que alguma coisa foi feita. Em muitos casos, há melhorias. Se você fizer o balanço de ganhos e perdas, a maior parte da população não ganha tanto e muito poucos ganham muito, mas há transformações reais. Na África do Sul, mesmo com todas as limitações, a ligação de corredor exclusivo de ônibus para Soweto muda completamente a vida de quem vive em Soweto. Não é imaginário.
Mas tem efeitos perversos que não são lembrados, que não são tocados. Falando como relatora da ONU para o direito à moradia adequada, e em geral para os direitos humanos: o foco principal dos direitos humanos são os mais vulneráveis. Esses deveriam ser os prioritários e, em geral, são os prejudicados. São os que acabam carreando os efeitos perversos.
Sobre o envolvimento da sociedade civil, mencionado pela senhora como fator preponderante para o sucesso de Barcelona: nós aqui no Brasil ainda temos tempo de fazer isso, considerando o horizonte de 2014?
Já começa por quem formulou o projeto olímpico. Quem participou dele? E do projeto das cidades para a Copa? Esses projetos são definidos a portas fechadas entre os agentes políticos e as corporações envolvidas com a produção do evento. Ponto. Tudo o que nós construímos no Brasil de participação popular, de conselhos, de planejamento participativo, está sendo completamente deixado de lado no momento de definição das obras para a Copa e para as Olimpíadas.
A senhora vê diferença na forma de condução desses processos entre países centrais e os menos desenvolvidos?
Uma coisa é você fazer uma grande operação de renovação urbanística quando um grau básico de urbanidade já foi conquistado, como era o caso de Barcelona, ou como é o caso de Londres. Drante 50 anos, Londres fez uma política muito forte de investimento em habitação social, com 30% de todos os empreendimentos obrigatoriamente produzindo habitação popular, e por isso conseguiu praticamente zerar as condições precárias de moradia.
Outra coisa é a situação do Brasil, ou de Nova Délhi, na Índia, onde aconteceram os Commonwealth Games. Parece-me que, no nosso caso, esse tal legado deveria ser totalmente dirigido para constituir esse grau básico de urbanidade ou pelo menos ir na sua direção. Mas não. O que a gente viu é que as pessoas que moravam em condições precárias foram simplesmente expulsas, suas casas destruídas e nenhuma alternativa apresentada. E nós estamos repetindo aqui no Rio de Janeiro, neste momento, a mesma coisa. Em outras cidades brasileiras também. É assim: “Aqui vai ter um estádio? Ah, beleza, vamos saindo, vamos tirando tudo fora”, sem respeitar os direitos dessas pessoas e sem equacionar devidamente as alternativas.
Segundo o seu relatório, os impactos quanto a moradia se repetem, sobretudo nos países menos desenvolvidos, em razão da urbanização precária?
Exatamente. Os impactos se repetem e são mais graves. Mas isso aconteceu em Atenas também.
Essa nova tendência de sediar a Copa do Mundo em países periféricos diz alguma coisa sobre a FIFA (Federação Internacional de Futebol)?
A Fifa vai aonde está o dinheiro. Eu pude testemunhar isso ao preparar um relatório sobre os megaeventos e o direito à moradia e apresentá-lo à ONU. Eu me dirigi, como relatora, ao Comitê Olímpico Internacional e à Fifa para poder discutir com eles, ver como é que eles tratavam essa questão. Eram denúncias que eu recebia sistematicamente de expulsões forçadas em massa, tanto em Pequim como em Nova Délhi, como em vários lugares da África do Sul. E com o COI eu consegui estabelecer uma conversa, entender como é o processo, começar uma interlocução. A Fifa nem sequer me respondeu.
Em países periféricos não seria mais fácil empurrar certa exigências?
Não sei. Eu não fiz uma análise sobre como se deu a relação da Fifa, por exemplo, com o governo da Alemanha para a Copa de 2006. O que eu vi e que achei absolutamente escandaloso foi que a Fifa estabeleceu protocolos com os governo locais da África do Sul. Exigências do tipo: não se podia vender outra marca de cerveja, não apenas dentro dos estádios, mas num raio de quilômetros no entorno dos estádios. Foi estabelecida uma política específica com julgamento sumário no momento em que a pessoa pudesse cometer algum tipo de delito. De tal maneira que a gente pode chamar de estados de exceção e territórios de exceção. Eu não sei se essa é uma tendência no tempo, que foi piorando, ou se é porque se trata dos países emergentes. Mas, de fato, o estado de exceção tem-se ampliado. E, eu não preciso dizer, as denúncias de corrupção em relação à Fifa são notórias.
Em termos de transparência, como a senhora avalia a remoção e o reassentamento de pessoas no Brasil para a Copa e para as Olimpíadas?
É completamente obscuro. Você não consegue encontrar em nenhum lugar, dentro dos projetos formulados pelas cidades, quantas pessoas serão removidas, qual é o valor que está previsto, o que foi apresentado para elas, para onde elas vão. Quando vai haver uma remoção, a comunidade tem de conhecer o projeto, tem o direito de discutir o projeto, tem o direito de apresentar uma alternativa, de estabelecer uma negociação. Tem o direito de ter um organismo independente para a própria comunidade poder acompanhar esse processo, com assistência técnica e jurídica, por exemplo, da universidade.
A senhora está falando da lei brasileira ou internacional?
Eu estou falando dos tratados internacionais sobre o direito à moradia dos quais o Brasil é signatário e que, portanto, são plenamente aplicáveis aqui. Eu tive a oportunidade de visitar comunidades que serão objeto de remoção. As pessoas não sabem de nada, não sabem por que, não sabem quando. Os funcionários da prefeitura chegam e pintam as casas com um número, assim como os nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial. Então você sabe que a sua casa é um alvo, mas não sabe nem quando nem o que vai acontecer com você, nem que espaço você tem para conversar. Isso está acontecendo no Morro da Providência (Rio de Janeiro), em Fortaleza, e em outras cidades, sem nenhuma transparência, numa violação clara do que dizem os tratados internacionais sobre a matéria.
Ricardo Teixeira costuma dizer que a CBF (Confederação Brasileira do Futebol) é uma entidade privada, a Copa é um evento privado, aparentemente dando a entender que ninguém tem nada a ver com isso. Como a senhora analisa esse argumento?
A CBF pode ser uma entidade privada, mas nossas cidades são públicas, pelo menos até onde eu entendo o conceito de cidade. A gente não pode simplesmente deixar que as nossas cidades, com o beneplácito e a participação dos nossos governantes, sejam transformadas por pautas definidas por uma entidade privada.
Nos estados e cidades que não costumam receber tanto investimento do governo federal, o gasto com estádios se justifica, eventualmente, pelas transformações urbanísticas associadas?
Essa é outra dimensão: o gasto público. O governo federal não está colocando recursos na construção de estádios, mas governos estaduais estão. Está-se usando subterfúgios e alguns jeitinhos para entrar dinheiro público. É o caso do Atlético Paranaense, cujo estádio vai ser ampliado e reformado com a venda de recursos de potencial construtivo. O potencial construtivo é definido no âmbito do planejamento da cidade, portanto é de propriedade pública. Tem também o próprio investimento e financiamento do BNDES com juros mais leves que os do mercado, o que configura também financiamento público.
A segunda questão é o gasto total. Vale a pena? A gente tem casos de cidades que se endividaram. Olha o que está acontecendo na Grécia. Uma parte tem a ver com o custo das Olimpíadas de Atenas e que não foi pago. Agora está-se discutindo isso na África do Sul. O balanço é vermelho. Eu vi um estudo que fez o mesmo cálculo no caso dos Commonwealth Games, na Índia. E num país que tem uma demanda de investimentos tão importante como o nosso, vale a pena gastar nesse tipo de coisa? Acho que a pergunta é totalmente procedente.
Na sua opinião, o que feriria mais o orgulho dos brasileiros? Um novo Maracanazo ou problemas de organização que pudessem prejudicar a imagem do país?
Tem uma dimensão no campo geopolítico internacional que é uma tensão entre os países emergentes e menos desenvolvidos e Europa e América do Norte. É uma tensão mais ou menos assim: “Ah, esses paisinhos emergentes não sabem organizar nada, são todos corruptos”.
Tem uma pauta muito importante que é a afirmação dos países de que podem, sim, organizar grandes eventos. Isso foi extremamente importante para a África do Sul e é extremamente importante para o Brasil no cenário internacional, porque esses países estão tentando se colocar como contrapeso político numa História de hegemonia do mundo. Não é só de nacionalismo bobo, é também uma tensão real entre países. Quem manda no planeta? Acho que o Brasil está-se colocando numa posição de liderança dos excluídos. Esse componente é também muito importante. Para o cidadão brasileiro, evidentemente, as emoções de ganhar ou perder um jogo são terríveis.Pelo amor de Deus, só falta a gente perder essa final no Maracanã, vai ser muito deprimente. Mas do ponto de vista da geopolítica internacional, o impacto de organizar mal ou bem vai ser mais importante. A questão central é: para quem?
Eu gostaria que a senhora respondesse à sua pergunta. No Brasil, a quem vai beneficiar? Qual a sua expectativa?
Eu tenho grandes dúvidas. Pelo andar da carruagem, esta é uma operação que beneficia algumas grandes corporações e empresas, que vão conseguir vender produtos e serviços, algumas nacionais, outras multinacionais. E vai encher os cofres da Fifa e da CBF e dos seus dirigentes.
Vai ter alguma coisa pontual, algum corredor de ônibus que vai beneficiar a população que não tinha um ônibus bom, alguma reforma de espaço público em que uma parte da população vai encontrar um lugar agradável em cidades que são geralmente desagradáveis, algumas operações sobre assentamentos informais. Mas o centro da agenda, a balança dos ganhos e perdas é que é a questão.


 Vidro quebrado após manifestação no Ministério do Esporte (Foto: Marcelo Parreira/GLOBOESPORTE.COM)
Vidro quebrado após manifestação no Ministério do Esporte (Foto: Marcelo Parreira/GLOBOESPORTE.COM)